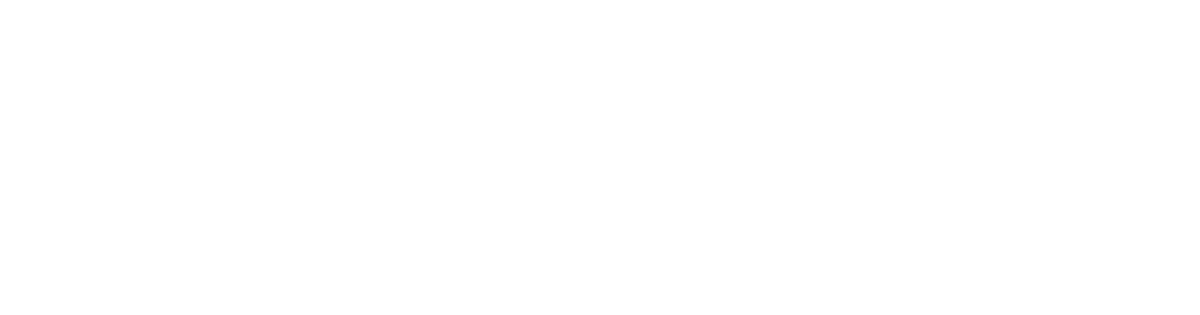A saga do gnosticismo jurídico – operadores do direito em busca do vale encantado
A saga do gnosticismo jurídico – operadores do direito em busca do vale encantado
Gustavo Torres | 11 de agosto, 2017
1. Introdução
Estudantes de direito e, mais especificamente, aqueles que são entusiastas da filosofia do direito – ou da filosofia em geral – muito provavelmente já ouviram falar ou estão de alguma forma familiarizados com o conceito de gnoseologia; no caso do direito, da gnoseologia jurídica.
Em termos bem gerais, a gnoseologia trata da validade do conhecimento em função daquele que conhece (ou pretende conhecer); ou seja, é o ramo da filosofia que se preocupa com a possibilidade, origem, os limites e a forma do conhecimento em função do sujeito cognoscente.
Quando aplicada à filosofia do direito, a gnoseologia jurídica é o resultado de se questionar o que podemos conhecer do direito, qual a validade deste conhecimento, quais os limites de seu conhecimento e de que forma somos capazes de apreendê-lo.
Leia também
- 5 livros que um liberal deve ler sobre ciência política
- O que é legislação-álibi e como ela atrapalha sua vida
- Um pequeno guia para Ronald Coase
2. O objeto
2.1. O que é direito?
Observe que é de extrema importância definir, antes que possamos nos questionar sobre a possibilidade e validade de um saber jurídico, uma coisa: o que é “direito”? A resposta quase automática para essa pergunta, se perguntada à um jurista qualquer seria algo como “o conjunto de normas e regras que visam regular a vida em sociedade”. Repare que não é necessário ser nenhum jurista ou filósofo para entender essa definição de direito. Ela é, em verdade, bastante simples; simples o suficiente para uma criança de dez anos entender.
Passemos, então, para uma definição um pouco diferente – não necessariamente mais refinada – do que é direito, qual seja “o conjunto de normas estabelecidas pela sociedade civil para regular as relações entre os membros desta sociedade”.
Essa nova definição traz consigo um novo conceito, o de “sociedade civil”. Subjaz nesta definição de direito a ideia de que a sociedade, este conceito holístico e que pouco tem a dizer sobre os indivíduos que a compõem, estabelece as normas que posteriormente impinge sobre os indivíduos que a formam através de alguma estrutura organizacional.
Assim, torna-se importante questionar uma coisa: como uma sociedade externa tais normas? Como se extraí de um grande contingente de indivíduos “um conjunto de normas e regras que regulam a vida em sociedade”? Uma coisa é certa: toda e qualquer forma de expressão de tal conjunto normativo passa, antes de ser externado, pela atividade intelectiva, um processo cognoscitivo, dos seres humanos. É apenas depois dessa atividade de internalização e racionalização de qual é (ou deveria ser) a norma que ela pode ser externada no mundo, o que acontecerá, necessariamente, na forma de linguagem. Ou seja, a atividade de produção de normas é sempre a atividade de construção de um discurso; é um jogo linguístico, quer o fenômeno se dê na forma da linguagem verbal, quer aconteça de forma semiótica (através de imagens ou outras formas de comunicação não-verbal).
2.2. A possibilidade de “conhecimento” do direito
Dito isto, devo fazer uma ressalva em relação ao estudo da gnoseologia jurídica. Se admitimos que o estudo da possibilidade do conhecimento jurídico não perpassa a crítica em relação à capacidade humana de, através do próprio intelecto, alcançar as normas, para, apenas após este processo, ser capaz de externá-las enquanto fenômeno objetivo no mundo real, a gnoseologia jurídica não passa de um estudo extremamente formalista da capacidade do homem compreender os limites de algo que ele próprio criou – a saber do conjunto de normas já postas pelo homem.
Neste sentido, acredito (e imagino que a maioria dos entusiastas por filosofia concordarão) que a gnoseologia não deve tratar do direito enquanto fenômeno objetivo no mundo, mas sim da capacidade, dos limites do conhecimento e da validade deste conhecimento humano acerca da descoberta e/ou construção de normas que devem reger à si próprio e aos seus semelhantes.
Me parece absurdo questionar a capacidade de conhecimento humano acerca do direito e, ao mesmo tempo, dizer que o direito como fenômeno é tão-somente uma criação do homem.
É aqui que reside o grande imbróglio do direito enquanto algo posto no mundo. Podem as pessoas instaurarem como normas ou garantirem para si na forma de direitos algo inexistente no mundo material, simplesmente por serem bem sucedidos nos jogos de linguagem ao externarem aquilo que acreditam ser “O” direito?
Em outras palavras, e problematizando: não existe uma ordem natural, leis naturais, que podemos apenas apreender, mas nunca alterar?
3. O gnosticismo jurídico
3.1. A transposição do paraíso utópico (idealismo) ao mundo real através da normatização
É diante deste problema que me refiro à outro “fenômeno” relacionado à gnosis jurídica, mas que não é tão bem estudado ou mesmo percebido pela grande maioria dos “operadores do direito” (vocês não fazem ideia do quanto eu odeio esta auto-denominação ridícula): o que eu costumo chamar de “gnosticismo jurídico”.
Primeiramente, é preciso conceituar o que chamo aqui de gnosticismo jurídico e esclarecer que, com o devido respeito ao significado histórico e teológico do termo gnosticismo, apenas chamo este “fenômeno jurídico” (entre aspas, pois na realidade considero o que estou tratando como uma quasi-ideologia) por este termo devido à grande influência que sofri do uso mais técnico do termo “gnóstico” originado por Eric Voegelin[1], qual seja o gnosticismo como uma forma impor uma ordem “transcendental” ao mundo real.
Neste sentido, o que chamo aqui de gnosticismo jurídico é a busca pela transposição do mundo teórico idealizado ao mundo real através da regulação e normatização da vida humana. O gnosticismo jurídico é, desta forma, um tipo de pensamento que considera que o conhecimento teórico-jurídico pode ser, de alguma forma, o “senhor” da realidade.
O direito não é mais entendido como apenas um “conjunto de normas que regulam a vida em sociedade” – qualquer que seja sua origem –, mas sim como algo capaz de moldar a realidade, de dobrá-la conforme manda a norma.
Em outras palavras, dado que o direito enquanto fenômeno objetivo não existe senão na forma de jogos linguísticos, o gnosticismo jurídico é uma crença infundada de que o discurso (uma ferramente retórica de convencimento) pode alterar a realidade.
Se todo esse papo parece, até o momento, extremamente abstrato e confuso, apenas pense na quantidade de normas jurídicas que, reiteradamente, parecem ignorar as barreiras materiais do mundo em que vivemos. Pense na quantidade de “direitos” que são atribuídos à todos mas que, para sua devida efetivação, imporiam um encargo sobre toda a sociedade que torna a própria vida em sociedade algo impossível.
Tomemos como exemplo o artigo 6º de nossa Carta Magna:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Rapidamente, como diria Frédéric Bastiat, alguém concluirá que, se somos contra a “garantia” através da lei de tudo isso que está contido no artigo supracitado, então somos contra tudo aquilo que ali se encontra erigido como “direitos sociais”[2].
Ocorre que uma coisa nada tem à ver com a outra: apenas creio que o que se pretende “garantir” através da lei e, por conseguinte, da imposição estatal, não irá alterar de qualquer forma as barreiras materiais existentes para o alcance real dos objetivos ali expostos. São outras forças que atuam no seio de nossa vida em sociedade que podem fazê-lo, e estas forças não são os impulsos físicos necessários para mover a mão de um burocrata quando, movido ou não por boas intenções, escreve algo num papel.
Em outras palavras, a lei e a vontade política de fazer algo através da intervenção do Estado não torna aquilo uma realidade. A enunciação das palavras (ou escrevê-las em pedaços de papéis na forma de um artigo) “todos têm direito à saúde e moradia” não cria no mundo material as condições necessárias para que todos efetivamente tenham acesso à um ou o outro.
Concluindo a explicação do conceito de gnosticismo jurídico, as autoridades que lidam com o direito – os “operadores do direito” de todas as sortes, do estudante ao ministro e, principalmente, os legisladores – parecem estar numa eterna empreitada em busca de uma realidade fantasmagórica, existente apenas e tão-somente no plano teórico, buscando “aperfeiçoar” tudo aquilo que obsta a consecução da incessante busca pelo mundo perfeito, do paraíso terrestre, através de uma ferramenta de convencimento, os jogos de linguagem.
3.2. O problema da abstração e a demanda por certezas
Neste momento, gostaria apenas de introduzir à um problema que certamente escreverei sobre no futuro: a eterna ânsia por certezas e a incessante busca pelo fim da insegurança.
Uma vez que o direito considerado como um fenômeno social se externa necessariamente na forma de conjuntos discursivos e que, portanto, não necessariamente almejam alcançar a verdade, mas sim o convencimento, e dado que como seres humanos que agimos sempre num ambiente de incerteza, somos altamente suscetíveis a acreditar em qualquer coisa que nos retire deste eterno ambiente de incerteza.
A natural abstração das normas jurídicas, por sua vez, torna ainda mais obscuro o fato de que a simples enunciação de algo não faz desaparecer as barreiras materiais para alcançar aquilo que se propõe inicialmente. Em outras palavras, pessoas acreditam que a lei pode simplesmente lhes dar coisas que na esfera individual jamais tomariam por garantido pela simples expressão da vontade de que aquilo se torne uma realidade.
Se, por um lado parece absurdo eu achar que obterei atendimento médico simplesmente dizendo para meus vizinhos que alguém deve me prestar socorro, pelo outro torna-se perfeitamente natural dizer que aquilo me é garantido por lei.
Com efeito, a natural crença em coisas flagrantemente absurdas como “solidariedade forçada”, “serviços gratuitos”, “direito à felicidade”, entre outras coisas, é uma consequência deste caráter pervertido da lei, que vem, ao longo de muito tempo, criando uma sociedade de “titulares” de direitos à tudo e qualquer coisa.
3.3. Autoridade e os “eixos teóricos” – mundo estritamente teórico (realidade idealizada) e o mundo dos fatos (realidade fática) – análise estritamente teleológica e estritamente axiológica da norma
Continuando, uma coisa provavelmente já deve ser bastante clara para o leitor: o direito, mais especificamente as normas são claramente instrumentais, uma forma de se alcançar fins determinados. O fato de que elas apenas existem no mundo objetivo na forma de jogos linguísticos nos informa apenas que ao externamos o que acreditamos ser um direito precisamos convencer os outros de que aquela é a melhor forma de se alcançar os objetivos propostos.
A análise gnóstica do direito enquanto fenômeno social e histórico toma duas formas peculiares: a primeira enfatiza quase que exclusivamente os meios, como a norma deve tornar o mundo num “lugar melhor e mais justo” (sem definir de forma consistente o que é um lugar melhor ou mais justo), pelo que se percebe um claro movimento utilitarista do sistema normativo, dando azo à interpretação de que é papel do direito o progresso em direção à “um aumento qualitativo e quantitativo do bem presente”[3].
A segunda forma enfatiza o fim proposto, sem a devida consideração sobre os meios necessários para se alcançar tal fim, resultando em normas utópicas. As normas que são feitas e aplicadas com este viés comumente são baseadas nos mais diversos idealismos, como o completo fim da desigualdade, do alcance da paz perene entre os indivíduos e o mais importante de se ressaltar e pernicioso dos objetivos buscados pela norma, o fim da necessidade material.
Esta é, na minha humilde opinião, a principal consequência, e o maior perigo, dessa legião de juristas que creem na falaz ideia de um direito (entendido enquanto conjunto de normas) capaz de alterar o mundo material e que se veem como “operadores” da norma; os sujeitos que colocam em prática aquilo que a autoridade diz dever ser, não a forma de se regular as relações da sociedade, mas a forma que a sociedade deve tomar.
Então, o que torna a experiência sensível de autoridades que visam o controle do ente abstrato “sociedade” tão diferente da experiência individual, que faz parecer possível coisas que na esfera individual todos sabemos, mesmo que intuitivamente, serem lúdicras?
3.4. Direito, normas e transmissão de informações – universos paralelos de “pensamento mágico”
Sistemas organizacionais centralizadores, baseados em decisões de autoridades, tendem à causar enormes distorções no fluxo de informações que, não raramente, fazem com que os tomadores de decisão – no direito, os legisladores e julgadores – vivam em mundos imaginários. Nas palavras do teórico dos sistemas, Kenneth E. Boulding, “quanto maior e mais autoritária a organização, maiores são as chances de que seus tomadores de decisão operarem em mundos puramente imaginários”[4] .
Isso acontece, pois, além de estarem os legisladores com o fardo da onisciência sobre seus ombros, as pessoas que se encontram sujeitas ao direito por aqueles formulados costumam acreditar na onipotência das normas. De outra forma: temos os legisladores, dotados da onisciência e do instrumento onipotente – as normas capazes de alterar a forma do mundo –, em face dos anseios de uma sociedade de “nescientes”, aqueles que convivem com o fardo da incerteza e, naturalmente, desejam acabar com ela.
Adicione-se à isto o fato de que não é a coisa mais comum do mundo ver aqueles subjugados à autoridade questionando a capacidade da mesma, pelo que se dão as distorções de informação conforme a informação sobe nas cadeias hierárquicas.
Se alguém dúvida disto, apenas se lembrem da forma servil com a qual constantemente as pessoas se comunicam com qualquer um em posição de autoridade, ainda mais quando dita autoridade é aquela que possui as armas. Pensem nos tribunais e na forma como os advogados e as partes se dirigem aos julgadores. E não achem, nem por um segundo, que esta subserviência é uma exclusividade das relações indivíduo x autoridade estatal, uma vez que os mesmos motivos que fazem com que a informação chegue ao topo da cadeia hierárquica de forma distorcida em relação a autoridade estatal, existem nas relações entre empregados e seus chefes, pelo que não é nada incomum vermos patrões igualmente desconexos da realidade e dos impedimentos materiais que existem em sua empresa – e aqui reside uma enorme diferença entre bons e maus empreendedores, entre líderes e chefes no ambiente de trabalho.
De toda forma, uma coisa é certa: é condição sine qua non para a comunicação verdadeira (aquela que transmite as reais informações acerca de uma situação fática) que ambos interlocutores coexistam, ou ao menos se enxerguem, em paridade de poder.
Assim sendo, a autoridade é naturalmente divorciada da realidade, encontrando-se tão distante dos acontecimentos, que não percebem com clareza os impedimentos materiais existentes no mundo ou não recebem a informação necessária para compreendê-los, e, por conseguinte, constantemente não percebem as barreiras materiais que existem entre sua vontade (ou, no caso, a enunciação do que eles gostariam fosse o estado real das coisas, em forma de leis) e o que é necessário para torná-la uma realidade, ou, ainda, se é possível traduzir aquela vontade em uma realidade.
Por isso, tomando emprestado o termo utilizado por Kevin Carson, não é um exagero dizer que os tomadores de decisão e os criadores de lei estão constantemente presos numa forma de “pensamento mágico”.
4. O paraíso da “não-escassez”
Diante desta matrix de “pensamento mágico” das autoridades e da constante busca das pessoas pelo fim da insegurança, mais precisamente o fim das barreiras materiais, nos deparamos com um sistema de normas que parece buscar, em grande parte como resposta aos anseios sociais, um mundo de extrema abundância. Uma ideia de mundo no qual possuímos instantaneamente todos os meios necessários para atingir todos os mais nobres fins propostos pelos nossos “magos-legisladores”. Basta, como gostam de dizer nos meios políticos, “ter vontade política”. Acho que isso é o bastante para deixar claro o quão à parte da realidade se encontram nossos tomadores de decisão.
No meio disto, temos os “operadores do direito”, verdadeiros autômatos tentando colocar em prática os sonhos e ilusões criadas por burocratas e legisladores que prometem a transposição de um paraíso extra-terreno de não-escassez ao mundo material em que vivemos.
Não preciso me delongar para dizer que, sob este escopo, minha visão do que hoje estudo como direito é extremamente pessimista e, inclusive, acredito que a maior parte dos auto-proclamados “operadores” continuarão em sua empreitada eternamente sem nunca entender por que falham na “efetivação de direitos fundamentais” eternamente.
5. Conclusão
O direito e o formalismo que o subjaz vem criando uma legião de juristas que visam, através da legislação e da aplicação de normas essencialmente abstratas e gerais, criar uma espécie de “paraíso terrestre”, encontrando-se completamente alienados da realidade e das barreiras materiais que se opõem aos eternos planos de se “operar o direito” em direção à uma sociedade perfeita.
Em busca dessa sociedade perfeita estritamente teórica, criam-se mais conflitos e problemas que se solucionam, uma vez que a lei, por essência, não é capaz de criar algo ex nihilo, mas apenas redirecionar os recursos escassos de nosso mundo (provavelmente a maior barreira material para os planos de legisladores que é reiteradamente ignorada por estes).
Neste sentido, creio que, ao buscar solucionar problemas sociais, que são extremamente complexos por natureza, cabe à nós tomar a posição mais honesta antes de propor soluções mágicas através da legislação ou da aplicação de normas; ou seja, ter a humildade de, ao ser confrontado com tais contingências, dizer: “eu não sei”.
Assim, quem sabe talvez deixaremos de ser mais uma barreira e um fator de desordem, permitindo que as pessoas possam encontrar entre si soluções espontâneas e voluntárias para problemas que nenhum “operador” ou legislador solipsista poderá resolver através da autoridade e do uso da força.
[1]WEBB, Eugene. Eric Voegelin: Philosopher of History. University of Washington Press, Seattle, Washington, 1981, p.282.
[2]BASTIAT, Frédéric. A Lei. 3ª. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, p.28.
[3]VOEGELIN, Eric. A nova ciência política, 2ª. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982, p.93.
[4]BOULDING, Kenneth E. apud CARSON, Kevin. Magical Thinking and Authority. Disponível em <http://c4ss.org/content/25602>
Gustavo Torres foi coordenador local do Students For Liberty Brasil.
Este artigo não necessariamente representa a opinião do SFLB. O SFLB tem o compromisso de ampliar as discussões sobre a liberdade, representando uma miríade de opiniões. Se você é um estudante interessado em apresentar sua perspectiva neste blog, basta submeter o seu artigo neste formulário: http://studentsforliberty.org/blog/Enviar