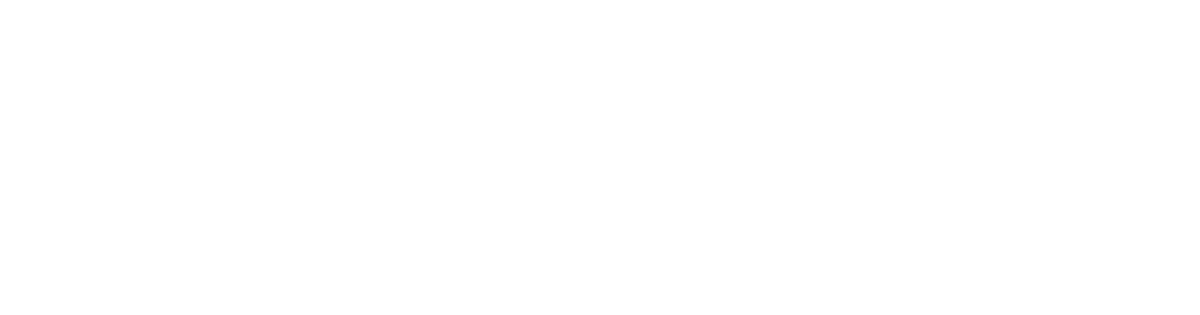Davi Lyra Leite: O SUS (Sistema Único de Saúde) é inviável
Davi Lyra Leite: O SUS (Sistema Único de Saúde) é inviável
Luan Sperandio | 01 de junho, 2017
Davi Lyra Leite, 28, é doutorando em Engenharia Biomédica pela Universidade do Sul da Califórnia. Colunista do Instituto Mercado Popular, é especialista em políticas públicas de saúde. Nesta entrevista, ele faz análises sobre o SUS, propõe medidas para melhorar a saúde brasileira, comenta o Obamacare e desmistifica a saúde cubana.
SFLB: Em artigo no início de 2016 você defendeu que o problema do SUS não era falta de dinheiro e que ele é operacionalmente inviável. Por que tem esse posicionamento?
Davi Lyra Leite: O SUS é operacionalmente inviável por vários motivos, mas eu vou elencar três razões que tornam fácil o entendimento:
a) Impossibilidade de planejamento estatal descrita pelo problema do conhecimento de Hayek: é impossível para gestores terem todas as informações sobre todos os agentes em todos os momentos a fim de realizar um planejamento central — no caso Sistema ÚNICO — das ações a serem realizadas. Esse é o mesmo problema que leva o NHS britânico ao colapso — como a própria BBC, empresa estatal e totalmente pró-saúde socializada, reporta — e que leva o sistema de saúde sueco a fazer pacientes morrerem esperando por cuidados médicos.
b) Impossibilidade dos recursos acompanharem os desenvolvimentos do setor de forma a permitir a sua universalidade: todo ano surgem inovações no setor de saúde que são, por definição, caras, mas que podem ter uma demanda alta por causa da característica do sistema de saúde (pacientes sempre vão querer o que há de mais moderno para o seu tratamento mesmo que os resultados não sejam tão melhores). Como o sistema promete ser universal e independente de renda, todos os pacientes que apresentam a mesma condição deveriam receber o mesmo tratamento — seja no interior do Piauí ou na Grande São Paulo. Com isso, os recursos destinados ao Sistema não conseguem essencialmente acompanhar o desenvolvimento. É só ver o que acontece com a questão da judicialização da saúde que faz alguns municípios gastarem mais de 50% da sua verba com um número absurdamente reduzido de pacientes que conseguem na justiça o acesso aos medicamentos mais caros e mais modernos que existem.
c) Problemática de descolar consumidor de comprador: aqui é a questão simples, que Milton Friedman ressalta muito bem, de que uma pessoa não vai se preocupar tanto em como gastar bem o dinheiro alheio com terceiros. Os gestores do sistema, que dificilmente sofrem as consequências de suas más decisões, pegam a grana dos pagadores de impostos para destinarem a gastos que vão ser com outras pessoas. Neste processo, o incentivo é muito pequeno para eles se preocuparem se o dinheiro vai ser bem gasto ou não — o dinheiro não é deles e o gasto não é com eles. Isso resulta ainda em um sistema cujo foco é no interesse do burocrata e não na necessidade do paciente, e por melhor que sejam as intenções dos burocratas a gente volta ao ponto (a).
Eu já cheguei a achar que o problema era só a questão de gestão incompetente e corrupção. Mas quanto mais eu estudava — e principalmente quanto mais eu lia sobre os sistemas internacionais, mesmo de países em que a corrupção é mínima –, mais eu via que essa perspectiva estava errada. Ela é bonitinha no papel e talvez até como um exercício filosófico, mas ela ignora aspectos essenciais da natureza humana, em especial as respostas que as pessoas vão dar a incentivos mal desenhados.
SFLB: O que você defende de reformas no sistema de saúde público brasileiro?
DLL: Primeira coisa que a gente tem de pensar é que existem coisas que, por mais que as pessoas não vejam, o Brasil faz bem e elas devem ser melhoradas, não abolidas. Um exemplo é o programa de vacinação. É um programa absurdamente barato, que adereça — em geral — uma externalidade negativa e que é até certo ponto justificável a atuação estatal na área.
Leia também
- Felipe Lungov: “A vacina contra o populismo econômico é ensinar economia à população.”
- Giuliano Miotto: “nosso legado será um Brasil mais livre e justo”
- Joel Pinheiro: “uma coisa é o seu mundo ideal, sua utopia, e outra a mudança que você propõe aqui e agora”
Outro programa que pode ser melhorado, mas em geral é bom, é a questão dos agentes comunitários de saúde (ACS). São pessoas normalmente das próprias comunidades que são treinadas para ajudar pacientes a seguirem rotinas de tratamentos para doenças crônicas e monitorarem a evolução dos pacientes, além de fazerem parte do acompanhamento de saúde e desenvolvimento infantil — muitas vezes relembrando os pais do calendário de vacinação, por exemplo. Por serem pessoas da comunidade, normalmente há um nível maior de conhecimento sobre as idiossincrasias de cada lugar e isso facilita ações de saúde comunitária e controle epidemiológico como no caso da dengue. E como o nível de qualificação exigido para função não é muito alto — normalmente algo na casa do ensino fundamental completo –, o custo do programa é baixo. Além disso, ele é bem focado em comunidades carentes, melhorando a qualidade de vida dos mais pobres.
Eu diria que essas duas iniciativas, vacinas e ACS, devem ser mantidas e seus problemas corrigidos, mas são elementos interessantíssimos do sistema brasileiro com os quais a gente pode trabalhar muito bem.
Por outro lado, há muita coisa a se fazer para melhorar o SUS. Todavia, a direção das mudanças do sistema de saúde público brasileiro deve ser definida com base no objetivo que a gente quer alcançar. Existem essencialmente duas possibilidades:
a) O Brasil decide continuar sendo um Estado babá em que o governo ativamente controla a vida da população. É o dilema que o Reino Unido passa com o NHS. Se quisermos continuar com um sistema em que o governo é dono dos hospitais e contrata os funcionários — um modelo totalmente socializado –, o necessário é buscar um aumento de eficiência do SUS com melhorias de gestão, melhoria na transparência do sistema, alteração no sistema de contratos, fazer a lei e os contratos serem seguidos, e seriam essenciais cortes de gastos que podem ser considerados excessivos. No processo, seria necessário criar algo como o NICE britânico que determina quais tratamentos vão ser disponibilizados para a população com base em custo benefício.
Além disso, o governo provavelmente definiria que cada pessoa só pode usar hospitais, clínicas, centros de saúde em regiões específicas para evitar o turismo doméstico de saúde — como no caso de um cara sair de Vitória para se tratar de câncer em SP — e poder planejar e controlar as coisas a médio prazo de forma um pouco melhor. Provavelmente também seriam instituídos alguns co-pagamentos, mesmo que bem baratos, que serviriam para alterar a demanda pelos serviços. Isso é a regra no Reino Unido e na Suécia, por exemplo, e já deveria ser feito no Brasil. Aqui o Estado pode entrar reembolsando as consultas das pessoas pobres seguindo a lógica de renda do Bolsa Família.
Particularmente eu não gosto nem um pouco dessa ideia — ela é empurrar o problema com a barriga até que a gente chegue a níveis de riqueza mais altos e ele se torne inaceitável –, mas talvez seja o caminho que o pessoal do Brasil esteja mais disposto a seguir.
b) O Brasil abre mão de ser Estado babá e decide demandar responsabilidade individual das pessoas, por mais que crie uma rede de apoio para aqueles que tiveram problemas. Nesse caso, o Estado pode até continuar sendo dono de hospitais e contratando os profissionais, mas os pagamentos não seriam feitos por impostos e sim com o uso dos serviços — meio que num esquema similar à Petrobras. Aqui a gente tem duas alternativas a seguir:
i) Exigir que todas pessoas contratem um seguro de saúde privado com plano mínimo definido pelo governo e o Estado fazendo repasses às pessoas pobres caso o gasto com esse plano esteja acima de um determinado percentual da renda. Esse é o modelo Suíço, em que todo mundo é obrigado a pagar um plano básico contratado de qualquer empresa que você queira — existem mais de 120 provedoras e os preços, por causa da competição, são próximos e relativamente baixos. Se você é “pobre” e o plano custa mais do que 8% da sua renda, o governo te repassa a diferença. Se você quiser contratar algo que vai além do plano básico, vai em frente, mas o governo não vai repassar nenhum centavo para pagar por ele.
ii) A segunda opção é um modelo parecido com o de Cingapura. Todas as pessoas do país estão inscritas em um plano de saúde catastrófico estatal — aquele para gastos altos e raros, como no caso de um acidente de carro, por exemplo. Além disso, o governo obriga todos os empregados a colocarem um percentual da renda numa poupança de saúde — estilo FGTS — que é usada para contratar planos de saúde complementares, pagar visitas médicas e gastos não catastróficos. Parte do rendimento dessa poupança saúde é taxada e usada para financiar poupanças de saúde para os 10% mais pobres do país. Além disso, há diversas regulamentações sobre como os hospitais devem operar e como eles devem ser “desenhados”, mas elas são relativamente estáveis e não sujeitas a muitas alterações em curto e médio prazos, permitindo que as pessoas planejem o que fazer e como empreender.
Essas duas alternativas seriam bem melhores para o Brasil do que a opção (a). Ainda existiriam problemas do governo decidindo quanto eu tenho de economizar ou pagar no sistema. Mas as distorções no mercado seriam bem menores e a gente conseguiria resolver parcialmente o problema de descolar o consumidor do pagador.
SFLB: O Programa “Mais-Médicos” foi um bom paliativo para melhorar a saúde no Brasil?
DLL: Depende de qual ótica você trabalhe, o programa contribuiu parcialmente para melhorar algumas coisas no sistema de saúde do Brasil. No país nós vemos um problema de falta de profissionais de saúde, o que leva a um aumento das filas e atraso de tratamentos. Quando você coloca mais gente no sistema — seja porque contratou mais gente como no caso do Mais Médicos, seja porque criou novos horários de atendimento (como o Doria) –, as filas diminuem. É verdade que o programa não adereça falta de equipamentos, nem problemas de gestão e corrupção, além de não lidar com péssimos incentivos que levam à sobreutilização do sistema. Mas ao aumentar o número de médicos disponíveis, ele ajudou a melhorar um pouquinho a saúde pública brasileira.
A gente pode criticar a corrupção do programa e o desenho focado em transferir dinheiro para Cuba, mas achar que ao aumentar o número de profissionais a população se beneficia. Outro ponto importante é que provavelmente conseguiríamos resultados talvez até melhores se permitíssemos que profissionais brasileiros de outras especialidades — em especial enfermeiros que já estão no SUS há muitos anos — atuassem na parte de atendimento primário.
Nos EUA algo nessa linha acontece. Nas Minute Clinics — centros de atendimento primário normalmente em farmácias, shopping centers e supermercados — as consultas são feitas por Enfermeiros e Physician Assistants — um tipo mais “chique” de enfermeiro — que fazem diagnósticos de doenças simples (gripes, infecções de garganta, alergia, etc) e realizam o acompanhamento de doenças crônicas. Eles são supervisionados por médicos que fazem o encaminhamento em situações mais graves, mas tem plena liberdade de diagnosticar e prescrever alguns medicamentos.
SFLB: A boa qualidade da medicina cubana é um mito?
DLL: A menos que você considere um sistema de saúde — por mais universalizado que seja — no nível do existente nos anos 60 e começo dos 70 como algo excelente, a qualidade é realmente um mito.
SFLB: Então por que o senso comum brasileiro é de que a medicina cubana é tão avançada?
DLL: Em parte por quatro motivos:
a) Uma mentira contada milhares de vezes acaba virando uma “verdade” na cabeça de pessoas que não se importam em correr atrás dos fatos. E no caso dessa história, você tem muita gente disposta a mentir e propagandear esse modelo porque ele se adequa ao seu pressuposto ideológico, vide Michael Moore com o documentário Sicko — sendo que ele admitiu, posteriormente, saber que estava visitando um hospital que não era aberto para o público em geral.
b) Existem muitas pessoas que tem prioridades diferentes que as nossas e acham que, como o modelo teoricamente universaliza um serviço — por mais ruim que ele seja — e trata teoricamente de forma igualitária as pessoas independentemente da renda, ele será necessariamente bom e avançado. Como o valor primordial para elas é a igualdade de resultado, Cuba (e Coreia do Norte) seria o suprassumo da excelência. Um detalhe importante é que pessoas com essa mentalidade estão sobrerepresentadas na academia e na mídia.
c) Existem pessoas que mesmo tentando ser intelectualmente honestas, ou seja, que podem procurar dados para ver se não estão divulgando algo que não se baseia na “realidade”, usam fontes questionáveis. No caso de Cuba, o problema é um pouco maior porque o governo não permite que fontes não estatais produzam as métricas associadas ao sistema de saúde e ele fornece praticamente tudo que é consumido para as análises internacionais — assim, os dados que a ONU e outras organizações internacionais usam vão estar contaminados pelo governo. Aqui o que a gente tem de fazer é tentar procurar comparar Cuba com outros países usando métricas que apresentam menos incentivo para deturpação — como no caso do artigo que a gente tem no IMP que analisa a mortalidade perinatal, mortalidade infantil, mortalidade neonatal precoce e natimortalidade. Isso é trabalhoso, complexo, e a pessoa comum acaba não fazendo. Ela compra ou a mentira deslavada de um ideólogo ou a falta de conhecimento difundida por alguém com boas intenções, mas que não fez a pesquisa direito.
d) Por fim, Cuba apresentava estatísticas na área de saúde bem melhores que a média da América Latina bem antes do governo castrista. Acreditemos ou não, Cuba era um país excelente para se viver nos anos 40 e 50, em muitas áreas estava bem à frente de Portugal e Espanha, isso para não contar os anos luz que estava à frente do Brasil. Como o socialismo começou de um ponto mais avançado na curva, pessoas que visitaram a ilha no começo da ditadura viram um país relativamente rico, mais desenvolvido que suas nações e voltaram para as suas terras natais espalhando as “maravilhas do sistema”. Esse foi o caso de Mario Vargas Llosa, por exemplo, nos anos 60, e de gente como FHC, Florestan Fernandes, além de vários intelectuais europeus e americanos. O sistema já estava mantendo a ilha atrasada em termos de avanço em relação aos outros países do continente, mas como ainda havia “excedente de capital” para se redistribuir, os problemas inerentes ao socialismo não eram tão claros. A mesma coisa acontece hoje em dia com brasileiros que visitam o Reino Unido ou a Suécia e adoram os sistemas socializados de saúde desses lugares, porque eles são absurdamente melhores do que o SUS.
SFLB: Ainda em relação ao Brasil, os planos de saúde brasileiros também não possuem qualidade tão boa, analisando o enorme número de reclamações de seus consumidores. Por que isso acontece?
DLL: Tem três aspectos que levam a esse resultado, um é uma mistura da característica do brasileiro com a pobreza do país, os outros são institucionais.
a) Brasileiro adora reclamar de todas as coisas, ou no jargão popular “brasileiro é corneteiro”. Isso não é de hoje, não é porque o país ficou mais exigente. Essa característica cultural por um lado pode ser boa — porque a gente sempre estaria ressabiado sobre o que acontece –, mas por outro pode levar a deturpação da análise do que acontece. Junta-se a isso os fatos de que brasileiros não leem contratos que assinam — e tentam de toda forma possível conseguir coisas que não contrataram — e que o país é em geral pobre, a gente tem um cenário perfeito para qualquer serviço ser alvo de reclamações.
Como o país é pobre, é impossível oferecer todas as maravilhas que as pessoas demandam e, principalmente, oferecê-las no momento exato da demanda. O número de médicos é relativamente baixo, o número de hospitais e clínicas é restrito, o acesso às coisas em geral é difícil e caro, levando a uma maior necessidade de se racionar recursos.
Este fator cultural característico do brasileiro faria até um serviço de excelência ser alvo de reclamações de uma parcela da população. Ele é, entretanto, um ruído na amostragem. O sistema não é um mar de rosas e a gente tem de saber separar o que é cornetagem do que é problema de verdade e aí entram os dois problemas institucionais:
b) Planos de saúde no Brasil são um dos serviços mais toscamente regulamentados que existem. Políticos e burocratas agem como se com a assinatura de um pedaço de papel em Brasília ou nas capitais estaduais fosse possível aumentar a quantidade de serviços e melhorar a sua qualidade. Nessa sanha regulamentadora, eles definem a cada ano qual é a cobertura mínima que cada plano de saúde deve ter, qual o aumento de preço possível, etc. Com isso, uma pessoa que não tem problemas de obesidade precisa contratar um plano que obrigatoriamente cobre consultas com um nutricionista. Uma pessoa que não tem problemas do coração, tem de contratar um plano com consultas de cardiologista. E assim por diante.
Como os aumentos de preços das apólices são controlados pela ANS, a mesma agência que determina o aumento da lista de cobertura, a solução das prestadoras é não dar aumento para os profissionais ou reduzir a rede de médicos e hospitais conveniados. Esse processo é chamado em inglês de race to the bottom, algo como a procura por atender os mínimos requisitos possíveis para se manter no mercado, não necessariamente focando nas vontades e necessidades dos consumidores — o objetivo aqui é satisfazer os burocratas, pois eles que determinam se o plano vai ficar no mercado ou não.
Um detalhe importante, parte desses burocratas que adicionam coisas aos planos de saúde que não estavam lá são os juízes que aceitam casos que violam regras contratuais e acabam artificialmente aumentando a cobertura dos planos em situações em que não é possível repassar parte do custo aos consumidores.
c) O outro problema institucional se dá na formação dos médicos que é bem regulamentada pelo governo, geralmente até com exigências mínimas sobre o tempo que os alunos vão ficar na faculdade — como a gente viu no debate do Mais Médicos. Isso fica mais grave quando os médicos passam para a fase de residência que, mesmo podendo acontecer em hospitais particulares, tem o valor das bolsas em parte definido pelo Ministério da Saúde, além de definições sobre o número de vagas por especialidade serem parcialmente controladas pelo Estado. A tendência é que isso gere distorções no mercado, com muitos residentes estando em especialidades de demanda baixa — e que posteriormente vão ganhar pouco no mercado, desincentivando sua “entrada” nos esquemas de planos de saúde –, enquanto especialidades de alta demanda não apresentam vagas o suficiente.
SFLB: Tratando-se de política americana, qual sua opinião sobre o Obamacare e o Trumpcare?
DLL: Os dois são tentativas erradas de corrigir problemas que não eram os mais importantes do sistema. Eles partem da premissa errada que as pessoas em geral mais pobres têm como principal preocupação proteger seus recursos financeiros, ao invés de se preocuparem se o médico vai estar no consultório ou não. E por que isso está errado?
Em primeiro lugar porque o maior problema da pessoa mais pobre não é saber quanto custa a consulta, mas sim não ter um médico que esteja na região que ela mora. Em geral eles estão dispostos até a completar o valor de consultas que seriam subsidiadas pelo Estado quando tem a oportunidade (algo ilegal na maior parte dos estados, diga-se de passagem) ou pagam por visitas a Minute Clinics quando elas existem nos seus bairros. Ou seja, o problema é mais de acesso ao serviço do que questão financeira. É exatamente o mesmo problema que a gente vê no Brasil.
Em segundo lugar, os pobres em geral não tem muitos recursos financeiros para serem protegidos e a maior parte deles é mais consciente na questão de gastos do que os ricos, perguntando mais sobre preços, negociando mais e realmente investindo apenas se há um ganho significativo de qualidade associado à diferença de preço.
Tanto Obamacare quanto as diferentes versões do Trumpcare foram desenhadas com essa premissa errada em mente. Isso acontece porque seus arquitetos vivem em situações em que têm certeza que o médico vai estar lá quando necessário, então a preocupação passa a ser proteger os investimentos que elas já fizerem.
O outro problema gigantesco tanto do Obamacare quanto do Trumpcare é que eles não atacam os maiores problemas que já existiam antes da eleição de Barack Obama em 2008, apenas criam outros. Eles pervertem mecanismos de incentivo tanto para as pessoas fazerem uso mais racional do sistema, como para melhorias do próprio sistema. Além disso, eles focam em exceções — o caso de pacientes com doenças crônicas raras — para criar regras gerais para o setor de saúde que aumentam os custos e levam ao mesmo processo de race to the bottom que a gente vê no Brasil.
A última versão do Trumpcare (Projeto de Lei) é melhor que o atual Obamacare, mas está longe de ser algo que vale à pena defender.
Esta entrevista não necessariamente representa a opinião do Students For Liberty Brasil (SFLB). O SFLB tem o compromisso de ampliar as discussões sobre a liberdade, representando uma miríade de opiniões. Se você é um estudante interessado em apresentar sua perspectiva neste blog, envie um email para [email protected].